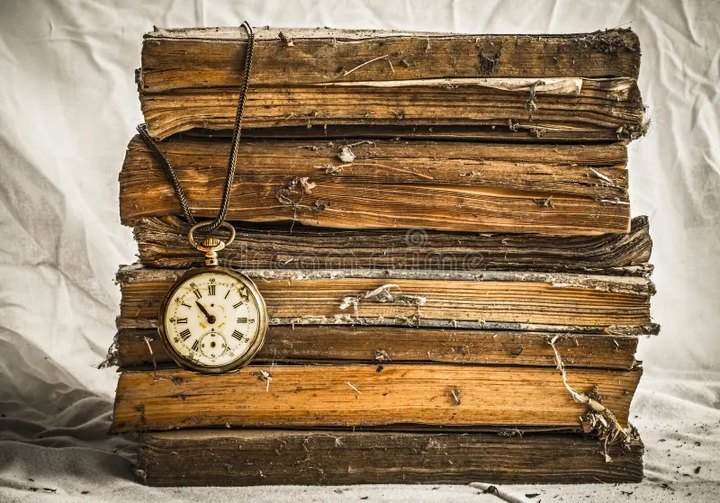Os comunistas e os grandes atos tradicionais
Devemos construir uma prática diferente — uma cultura política que não faça ações por fazer, mas que planeje, coordene e execute movimentos em unidade, com clareza de objetivos e estratégias, garantindo que cada ato cumpra um papel concreto na luta.

Por Comitê Regional do PCBR no Ceará | Tribuna de Debates
Nota Editorial: Publicamos essa tribuna para criticarmos, em pleno debate, algumas posições equivocadas que ainda vicejam em nossas fileiras no que diz respeito às nossas táticas frente ao movimento de massas. Os camaradas criticam, corretamente, a morosidade e caráter quase protocolar dos atos de ruas, sobretudo aqueles em datas tradicionais (8 de Março, 1º de Maio, 7 de Setembro etc.). De fato, a social-democracia se utiliza de maneira oportunista dos dias tradicionais de luta da classe trabalhadora para se autopromover e ensejar nas massas uma passividade condescendente e acrítica para com as lideranças oportunistas e seus recuos e traições políticas. No entanto, os camaradas concluem equivocadamente ao afirmar que devemos “limitar” nossa participação nessas manifestação, tratando-as como baixa prioridade. Nossas resoluções de Estratégia e Táticas são claras a respeito da postura que devemos ter:
“§76 Precisamos agir conforme o movimento real, tal qual ele se encontra, ou não seremos capazes de criar um trabalho entre as massas. É necessário aliar a luta econômica, própria dos sindicatos, com os métodos revolucionários da luta de massas. Desenvolver o espírito combativo, para que cada demanda por condições salariais e de trabalho, cada arbitrariedade dos patrões, cada injustiça cometida pelo poder estatal burguês se converta em greves, piquetes, protestos etc. Sem a experiência da luta imediata, a classe operária não poderá aprender a construir a sua luta pela emancipação. Devemos sempre unir as necessidades imediatas da classe ao entrave do modo de produção capitalista e a necessidade de superá-lo através da nossa agitação e propaganda.”
Desse modo, nos parece que a postura correta não seja abandonar ou limitar nossa participação nas manifestações de ruas, mas, sim, duplicar nossos esforços de agitação denunciando o oportunismo social-democrata que rasga décadas e séculos de luta operária revolucionária em prol de um governismo vazio e servil às classes dominantes, verdadeira retaguarda da luta de classes brasileira.
Ano após ano, temos no Brasil um calendário de grandes atos de rua que parecem, de tão tradicionais, obrigatórios. O 1º de Maio, o 8 de Março e o Grito dos Excluídos no 7 de Setembro são alguns exemplos de mobilizações que se repetem anualmente, por todo o país, reunindo partidos, movimentos sociais e organizações populares. São mobilizações que carregam simbolismo e história, mas que hoje mais parecem uma rotina mecânica: chega a data, organiza-se o ato, marcam-se presenças, e pronto, está feito o trabalho: “tocamos a luta”. A presença nesses atos passa a ser vista como bater o ponto anual, uma formalidade, sem necessariamente ter alguma reflexão estratégica sobre sua construção.
A participação deixa de ser uma decisão política consciente para virar rotina, quase sempre sem objetivos, sem avaliação posterior (metrificável, para além de simplesmente se conseguimos organizar nosso bloco ou não) e, no geral, sem sequer contribuir para avançar em nossa estratégia. Em vez de estratégia, prevalece a inércia. Marchamos porque “tem que marchar”, mas raramente avaliamos se conseguimos disputar a consciência da classe, construir unidade em torno de um programa ou fortalecer nossa organização, programa ou lutas específicas.
O que propomos aqui é uma inversão dessa lógica. Não se trata de abandonar datas simbólicas, mas de romper com a ideia de que sua simples existência obriga nossa presença nos grandes atos.
A questão central é: por que estamos neste ou naquele ato? Faz sentido para os nossos objetivos? Estamos conseguindo disputar e influenciar a linha política de setores estratégicos da classe trabalhadora ou fortalecer nossas bases a partir dessas ações? Como esses atos servem — ou não — aos nossos objetivos políticos? Se não servem, devemos reavaliar completamente se sequer devemos construi-los. Se servem, é preciso discutir como participar de forma mais consciente, menos automática e mais estratégica.
Marchar por marchar não basta. Queremos vitórias. Queremos a revolução. E servem ou não servem à revolução estes grandes atos?
A AÇÃO POLÍTICA É SUBORDINADA AOS SEUS OBJETIVOS
Seja qual for o ato, a primeira pergunta precisa ser clara: o que queremos? E somente daí podemos pensar como vamos conseguir o que queremos. Pois para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Antes mesmo de decidir se vamos organizar uma passeata, uma ocupação ou qualquer outra forma de luta, é preciso definir quais objetivos queremos alcançar e como ela pode guiar a luta das massas no sentido de construir uma consciência de classe revolucionária. A ação política não é um fim em si mesma; ela deve ser o desdobramento tático de uma estratégia. Em outras palavras, a ação é subordinada aos seus objetivos, e não o contrário.
Isso significa que não basta ter um programa amplo, cheio de conquistas desejadas. É necessário transformá-lo em objetivos alcançáveis e, a partir deles, construir um plano de ação, dependendo de etapas táticas ou não. Só então a tática — como uma passeata, por exemplo — ganha sentido. Tratar a tática de forma isolada, como se existisse no abstrato, não nos leva a lugar algum. É a estratégia que dá vida, direção e utilidade a qualquer ação.
A palavra de ordem (ou as palavras de ordem) gritada nas ruas deve também estar intimamente subordinada à estratégia. O mais comum de vermos são palavras de ordens como reivindicações genéricas, que expressam desejos legítimos, mas sem conexão real com o ato específico – ou com um planejamento adequado para conquistá-las. São gritadas e logo se dissolvem no ar. O ato deixa de ser instrumento de avanço para ser apenas uma “presença nas ruas” em abstrato, que não constrói nada e não dialoga com as reivindicações das massas, servindo somente como um performismo de presença militante.
Por isso, os pontos fundamentais para discutir um ato de rua — e qualquer forma de ação política — são essa subordinação da tática à estratégia e a sua capacidade de dialogar com as massas e expressar seus anseios. Assim, transformamos cada ato em parte de um caminho coerente, em que as ruas não são palco para uma performance de “ação” abstrata, mas de disputa concreta da consciência das massas proletárias e demais camadas oprimidas e exploradas.
A PASSEATA COMO AÇÃO POLÍTICA
Quando falamos em atos (ato político, ato de rua), geralmente o que nos referimos é uma passeata. Algumas vezes é uma manifestação parada, com ou sem caráter de protesto organizado (dependendo da força principal a mobilizá-lo). Porém, especialmente nos grandes atos, feitos em praças e locais públicos, sempre tendemos a preferir (e a pressionar) que sejam atos “andados”. Ainda que haja uma fluidez entre as formas de manifestação política a depender da conjuntura do momento, podendo facilmente transitar de uma concentração ou comício parado para uma passeata, então para um bloqueio de avenida até um protesto em local específico ou mesmo ocupação, trataremos aqui do mais comum: a passeata como forma cristalizada dos grandes atos tradicionais.
Seu objetivo central não é, necessariamente, conquistar diretamente uma demanda, mas dar visibilidade a ela (ainda que em casos excepcionais de absurda demonstração de força, ela seja o suficiente para a conquista). Trata-se de pegar uma palavra de ordem, algumas bandeiras de luta, e levá-las ao grande público. A passeata mostra que existe uma parcela expressiva da população, ou uma parcela estratégica de uma classe, que está disposta a se mobilizar em torno daquela pauta. Essa é sua função política: demonstrar força, indicar que aquele tema tem relevância social e que existem setores organizados prontos a agir.
Na luta, a passeata não é tipicamente o golpe final (ou o golpe mais duro) para forçar uma vitória imediata. Mais que um golpe, é uma ameaça política — uma demonstração de força que indica a possibilidade de ações subsequentes caso as reivindicações não avancem. Em outras palavras, a passeata é o aviso das ruas e nas ruas, não necessariamente o ataque. É por isso que, apesar de geralmente pacíficas, elas podem evoluir para outras formas de ação — às vezes conflituosas, às vezes não — ou ser conjugadas com articulações institucionais, greves e outras táticas. E nem entramos aqui na relação da passeata com a violência. Debates sobre danos à propriedade, confrontos com a polícia ou ações mais revolucionárias mostram que nem toda passeata é a mesma coisa, que é ou deve ser pacífica, pois sua evolução depende de muitos fatores — composição, disposição ou ânimo político, resposta das forças repressivas etc.
Tudo isso nos impõe a necessidade de inserir cada passeata num planejamento estratégico: para que a demonstração de força cumpra seu papel, é preciso ter objetivos claros, com alvo definido, com critérios para escalada ou recuo e com desdobramentos planejados, qual a mensagem precisa ser cristalina e quais são os próximos passos caso ela não produza o efeito desejado.
A AVALIAÇÃO OU BALANÇO DA PASSEATA
Para avaliar se uma passeata cumpriu ou não o seu papel, é preciso adotar alguns critérios objetivos. O primeiro deles é compreender qual era a estratégia do ato: o que se pretendia conquistar, quais demandas estavam em pauta, quais palavras de ordem foram escolhidas. Só assim podemos julgar se a passeata se apresentou, de fato, como uma ameaça à classe dominante — isto é, se sinalizou que, caso não haja resposta às reivindicações, poderão vir mobilizações posteriores em maior escala. Em outras palavras, se cumpriu sua função como demonstração de força.
Depois temos que analisar a capacidade de mobilização. Esse critério envolve tanto o número geral de pessoas presentes quanto a participação de setores estratégicos, que podem pesar mais do que a quantidade bruta indiscriminada. Um ou outro elemento — ou os dois combinados — já permitem medir parte da efetividade da ação. Objetivos gerais (como foi a derrubada da PEC da Blindagem) podem requerer uma quantidade grande de atores indiscriminados (e de classes e frações de classe distintas), enquanto objetivos mais específicos requerem, na verdade, mobilização de categorias específicas.
Outro critério é o resultado da divulgação das reivindicações e palavras de ordem. A passeata deve ser capaz de provocar uma ruptura na rotina da cidade, interromper fluxos, chamar atenção a ponto de forçar até mesmo a mídia hegemônica a noticiar e repercutir o ato. Essa pressão imediata é importante, mas não suficiente: é preciso avaliar também se as demandas continuam sendo discutidas depois, seja na imprensa, seja nos espaços sociais e políticos que realmente importam. Qual o impacto que o ato gerou na opinião pública.
Por fim, a análise não pode parar no ato em si. É indispensável olhar para o que acontece depois: como a passeata se conecta a um plano mais amplo, como suas demandas são organizadas, como se desdobram em novas ações. Afinal, a passeata não é um fim em si mesma, mas um momento dentro de uma luta maior.
OS GRANDES ATOS TRADICIONAIS
A partir das premissas que construímos cabe agora examinarmos os grandes atos tradicionais. Falamos mais especificamente dos três principais citados no início (Dia Internacional do Trabalhador, Dia Internacional da Mulher e Grito dos Excluídos), embora possam existir muitos outros em âmbito local ou regional (e inclusive existem outros atos tradicionais, também nacionais, que têm dinâmicas um pouco diferentes, mas que podem ser incluídos aqui). Não faremos um estudo de caso aprofundado aqui, mas a experiência empírica de nossos balanços nos permite realizar este exame com alguma precisão.
Não há estratégia para estes atos. A política geral é rebaixada, com palavras de ordem sem qualquer coesão, colocadas ali num acúmulo que preza pela quantidade desordenada e não pela qualidade estratégica. Pega-se tudo que está sendo proposto na sociedade (desde que não muito radical) e junta-se no mesmo lugar para se dizer que o ato é por aquilo também, porém sem qualquer compromisso com aquela reinvidicação; é só uma tentativa de enganar o trabalhador – por isso não nos espanta que no geral o trabalhador não tenha qualquer interesse em se esforçar com algo que parece ser inútil por não dar resultado algum, e assim se constrói a ideia de que ato “não dá em nada”. Eles são realizados com o compromisso, na verdade, é de “bater ponto” anualmente. “O ato aconteceu, fiz minha parte, estive na rua” — este parece ser o horizonte máximo para a maioria das organizações à frente da sua construção.
Atos que nunca atingem moldes massivos, nem de longe chegam perto do nível do que foi, por exemplo, o ato contra a PEC da Blindagem, organizado de última hora. Isso mesmo que sejam organizados com meses de antecedência. Em relação à visibilidade pública, sempre falham em romper a rotina urbana. Não provocam paralisação (no máximo uma dor de cabeça em alguns pontinhos do trânsito), não garantem uma ampla divulgação das pautas (esse amálgama desconexo de reivindicações), não impõem à mídia a obrigação de se pronunciar de modo relevante. São organizados nos locais “de sempre”, sem reflexão estratégica sobre espaços, horários ou formatos que maximizem seu impacto. Estamos cansados de erguer bandeiras e faixas em ruas vazias, gritar nossos pulmões para o vento. Nem os grandes blocos, nem os carros de som, nem as falas públicas nesses atos cumprem plenamente seu papel, já que em geral não são ouvidos ou sequer organizam o conjunto do ato. Cada bloco atua por conta própria, sem unidade real, e isso revela o caráter desagregado e difuso dessas mobilizações.
Ou seja: não há palavra de ordem coerente e unificada, não há presença efetiva de quantidade ou de setores estratégicos, não há ruptura significativa na cidade e nem divulgação ampla da pauta; esses atos não se projetam além do momento em que ocorrem. Se uma passeata não produz efeitos para além de si mesma — se não é ameaça, não é demonstração de força, não torna a pauta mais visível ou debatida, não tem plano subsequente, então, devemos nos perguntar, pra que ela serve? E por que devemos colocar toda nossa energia na sua construção?
A CONSTRUÇÃO DOS ATOS TRADICIONAIS
Antes de continuarmos, cabe aqui um parêntese: é preciso esclarecer por que esses grandes atos assumem essa forma esvaziada. A razão central é que, em grande medida, eles são organizados por setores da política governista. Sindicatos, centrais e partidos que hoje compõem a base do governo não enxergam os atos como instrumentos de mobilização popular independente – com um caráter de classe nítido –, mas como eventos subordinados a um projeto político que se apresenta como intimamente associado ao “governo dos trabalhadores”, quando, na prática, é nada mais que mais um governo burguês. Ao invés de servir para pressionar o governo e colocá-lo diante das reivindicações populares (seja qual governo for), esses atos são moldados justamente para evitar atritos entre “povo” e governo. E olhe que não estamos falando nem sequer de ter uma visão revolucionária para os atos, uma estratégia de ruptura com o Estado burguês; mas nem sequer o mínimo de independência de classe é vislumbrado pelas forças governistas: servem somente à manutenção do status quo, do governo neoliberal que se fantasia de esquerda para trair melhor o povo.
O resultado é uma política governista que teme o povo – pequeno-burguesa por excelência. A lógica é simples: levantar as pautas da classe trabalhadora seria “fragilizar o governo”, “fortalecer e dar munição à extrema direita”. Mas esse mesmo governo não assume tais pautas como suas; ao contrário, dedica-se a administrar os interesses das classes dominantes, multiplicando desculpas para não lutar pelas reivindicações dos trabalhadores. Por isso, a política de mobilização das maiores organizações populares hoje é melindrosa, domesticada, e transforma os atos tradicionais em expressões de apoio indireto ao governo, não em instrumentos de luta.
Mesmo quando certas demandas prioritárias aparecem, elas entram de forma artificial e performática. Foi o caso da jornada 6x1, cuja luta pela redução é citada por todo mundo em todo ato. Mas dizem, dizem, dizem e no fim não fazem nada consequente para conquistar a redução da jornada. Os atos se tornam uma espécie de vitrine difusa de reivindicações, sem preocupação real em planejar como podem ser alcançadas.
E como, no geral, nós que entendemos que é necessário a independência de classe, que é necessário uma oposição aos governos burgueses, temos uma influência muito limitada na construção desses atos, então é necessário ter clareza das razões dos atos serem assim (não é um problema das passeatas em geral, ou dos atos em geral; não é um problema da forma) e de que não temos a capacidade de mudá-los imediatamente. Não que devamos parar de tentar, mas ter esse entendimento de que somos minoria.
DE QUE VALE PARTICIPAR?
Se por um lado esses grandes atos carregam em si todas as limitações já apontadas — sua natureza governista, a ausência de estratégia, o fato de não cumprirem as funções políticas que uma passeata deve cumprir —, por outro lado, a participação neles ainda nos possibilita alguns ganhos que não podem ser ignorados.
Em primeiro lugar, trata-se de locais de grande concentração de pessoas, em sua maioria de esquerda, o que nos permite realizar atividades fundamentais: a venda de jornal, a distribuição de panfletos (ou coleta de assinatura para abaixo-assinados, urnas para votações/plebiscitos etc.), a montagem de banquinhas e atividades financeiras. Abrem a possibilidade de diálogos e de uma disputa, ainda que pequena, com setores que estão presentes, especialmente independentes ou bases pouco firmes.
Pois esses atos possibilitam algo que n ão é secundário: a aproximação de independentes. Mesmo não sendo atos tão massivos, é comum que puxem pessoas não organizadas, novos militantes em potencial, gente que está em busca de radicalização, que quer conhecer mais de perto a vida política e a militância. É aí que se encontra a disputa mais frutífera, porque são justamente os independentes os mais abertos a ouvir, a ler um panfleto, a dialogar com nosso jornal, a se aproximar de nosso bloco. Quando apresentamos um discurso coerente e uma prática organizada, é natural que essas pessoas identifiquem em nós a referência na luta dos trabalhadores.
Isso está ligado com a organização de nossos blocos dentro desses atos. Um bloco coeso, visível e disciplinado não apenas chama a atenção dos independentes, mas também funciona como um espaço de aprendizado organizativo para nós mesmos. A preparação de materiais, a mobilização de militantes, a construção de um bloco forte e chamativo são experiências que formam, que treinam, que fortalecem a experiência prática. Embora exijam um esforço significativo — enviar muita gente, garantir estrutura, investir em visibilidade —, são momentos que ensinam como nos organizar e como atuar de forma destacada em meio a multidões. Porém não é somente em atos grandes que temos esta experiência formativa; na verdade, em qualquer ação que queiramos fazer (e potencialmente outras ações exigirão muito mais de nós), isto pode ser suprido. Inclusive, utilizar esta agitação, embora menor, para fortalecer outras ações que estejamos realizando é muito útil.
PARTICIPAR OU NÃO DOS ATOS TRADICIONAIS?
O que devemos fazer diante desses grandes atos tradicionais? A resposta não é evitar a participação, mas limitá-la: em geral, nossa participação nesses atos deve ser de baixa prioridade. Não faz sentido mobilizar todas as nossas forças para investir com tudo, já que os resultados não correspondem aos esforços empregados. Devemos apenas aproveitar o que for possível: vender jornais, distribuir panfletos, dialogar, fazer fotografias e falas, mas sem organizar grandes blocos ou despender energia desproporcional.
Simultaneamente, é preciso pensar em ações alternativas. Essas ações não devem ser isoladas ou mecânicas, mas sim desdobramentos de uma estratégia clara. Por exemplo, no Primeiro de Maio, é possível planejar uma ação subordinada à nossa pauta principal (a redução da jornada de trabalho), com critérios mensuráveis para resultados, que sejam muito mais eficazes do que simplesmente marcar presença nos atos tradicionais.
Essas ações alternativas não devem ser construídas solitariamente. A meta é buscar unidade programática entre todas as organizações que lutam pelo mesmo horizonte estratégico (o fim do capitalismo e a revolução socialista), ou que pelo menos estejam verdadeiramente dispostas a lutar por esta demanda. Mesmo que essas ações sejam menores em escala, o seu direcionamento estratégico garante resultados muito mais impactantes.
A experiência da UP nos serve como referência, mas também como crítica: os camaradas conseguem fazer grandes ações alternativas (como ocupação de supermercados exigindo cestas básicas ou ocupações de prédios abandonados exigindo moradia justa), mas são realizadas de forma isolada, sem busca de unidade; servem apenas e principalmente para autoconstrução. Esta política de cada um por si, buscando somente se autoconstruir, crescer a sua base, avançar as suas lutas, o seu partido como único na luta; esta é uma política míope e inconsequente. Nossa experiência recente de alianças táticas com o PSTU tem sido promissora, ainda que insuficiente, na construção de uma unidade de ação.
Devemos construir uma prática diferente — uma cultura política que não faça ações por fazer, mas que planeje, coordene e execute movimentos em unidade, com clareza de objetivos e estratégias, garantindo que cada ato cumpra um papel concreto na luta. Garantindo, finalmente, que tenhamos conquistas. E não conseguiremos isto sozinhos.
Até mesmo se decidíssemos participar dos grandes atos — coisa que em determinados atos e em determinados contextos pode ser politicamente mais adequada —, isto só faria sentido se pensássemos a participação de forma unificada e estratégica. Caso decidamos participar, é essencial organizar blocos e conjuntos coordenados, com uma estratégia compartilhada entre todas as organizações envolvidas. Porém o ideal mesmo é desenvolver ações paralelas mais eficazes, que possam cumprir objetivos claros e mensuráveis, sem depender da lógica limitada dos grandes atos tradicionais.
Essas ações podem assumir diferentes formatos: passeatas menores, ocupações, mobilizações pontuais ou qualquer outra iniciativa que contribua palpavelmente para os nossos objetivos. Nessas ocasiões, podemos organizar blocos, dividir tarefas, realizar formação de militantes e, simultaneamente, atrair independentes que buscam se engajar ou conhecer mais de perto a luta política. Dessa forma, disputamos presença e influência, inclusive em relação às grandes passeatas, mas de maneira mais coerente e direcionada.
Não queremos ser o partido que está em todos os lugares, mas na prática não está em lugar nenhum. É melhor fazer um planejamento de ação coordenada e relevante para construir a consciência de classe, mesmo que nos coloquemos em menos espaços (qualidade, mais que quantidade). Nosso objetivo é participar das lutas buscando apontar a contradição principal na sociedade e que o proletariado se organize enquanto classe para conquistar a revolução socialista. Nosso objetivo é se inserir em categorias estratégicas e utilizar as melhores ações possíveis para desenvolver esse trabalho.
PLANIFICAR NOSSOS TRABALHOS COMO NECESSIDADE IMEDIATA
Por último, o ponto mais fundamental é que essas ações só podem ter qualidade se forem planejadas previamente. Não podemos deixar para organizar tudo na última semana. São atos que já sabemos desde o início do ano que vão acontecer. Meses antes de datas simbólicas, como o Primeiro de Maio, devemos definir objetivos claros, articular ações estratégicas e táticas e inserir essas datas dentro de um plano coerente. A data se torna, assim, um ponto de culminância ou um marco de início de ações coordenadas, e não apenas uma obrigação de presença.
Planejamento, unidade e direcionamento estratégico são, portanto, os elementos centrais para transformar a participação política em algo consequente. Só dessa forma nossas ações passam a cumprir papel concreto, formativo e político, em vez de se limitar a rituais vazios ou obrigações inúteis.
Como comunistas, cada ação que realizamos deve estar claramente orientada em direção à nossa estratégia final: construir o poder popular para alcançar a revolução socialista e a ditadura do proletariado, no caminho para uma sociedade livre da opressão de classes, o socialismo-comunismo.